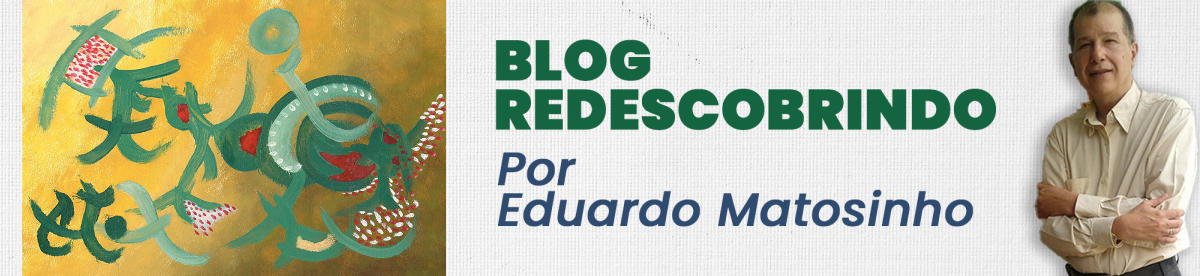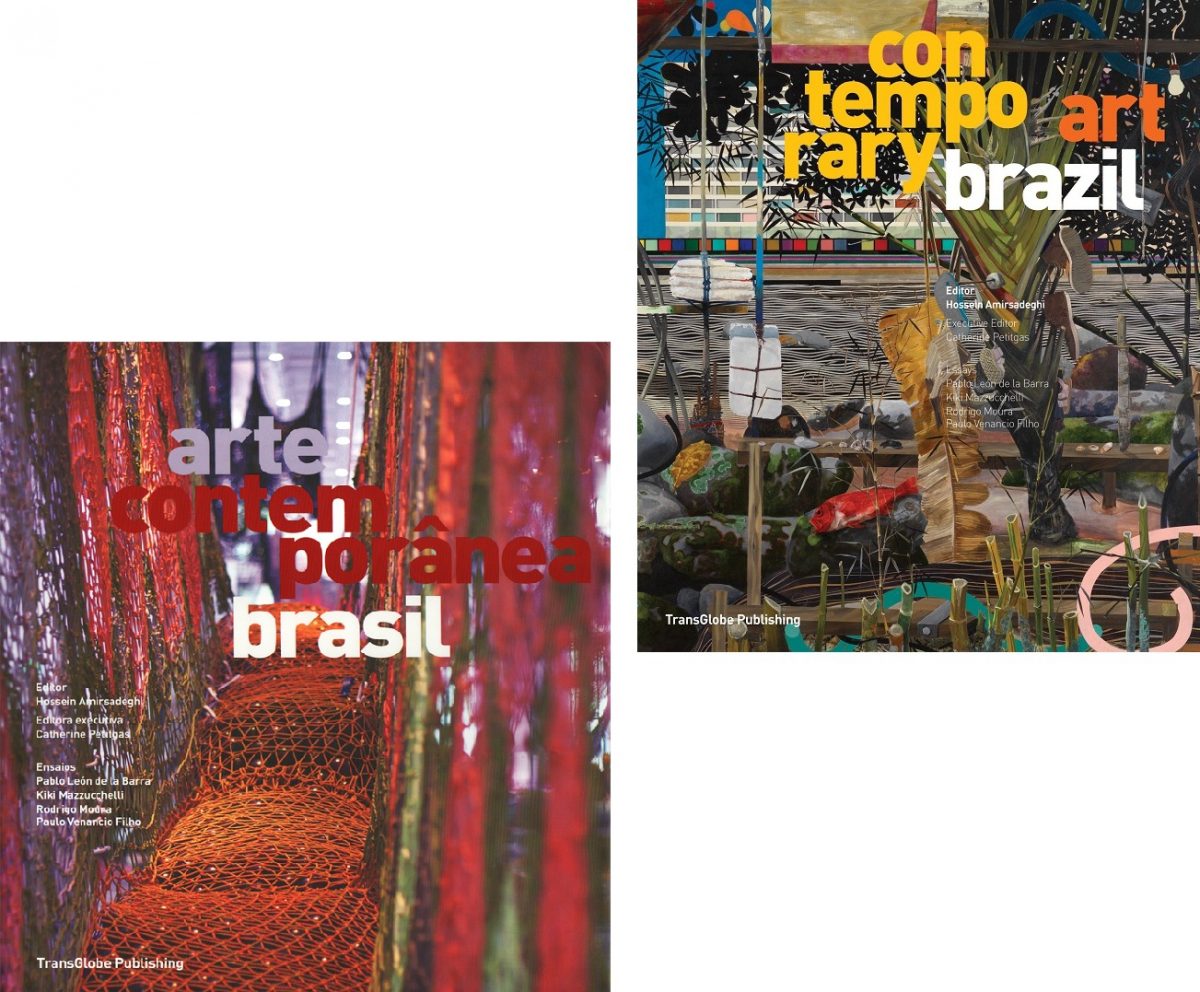Vez ou outra me perguntam sobre política, onde a teoria marxista ocupa uma posição central. Dúvidas sobre esse assunto são muito comuns. E sempre surgem questionamentos, confusões e mitos. Com o objetivo de esclarecer o leitor sobre essa forma de pensamento refletirei um pouco sobre ela analisando a sua teoria mais geral. Uma coisa é certa: o marxismo nunca perderá a sua atualidade, por mais que se fale mal do socialismo real. Na faculdade pude compreender que este pensamento – dito clássico – surgiu num contexto histórico de uma dupla revolução (Revolução Industrial e Revolução Francesa), sendo a “modernidade” a forma mais geral resultante desta. Assim seguimos contribuindo com o site “Vivendocidade”.
Na concepção marxista de sociedade não há uma separação rígida entre natureza e sociedade e sim uma relação dialética entre ambas. Entre os princípios da dialética, como método de pensar, incluem-se alguns conceitos como: “Nada existe separadamente”; “Tudo está em permanente processo de transformação” e que “O motor da mudança é a luta de contrários”.
O pensamento marxista tem como fontes principais na sua construção a dialética de Hegel, o materialismo de Feuerback, o socialismo utópico desenvolvido na França (Proudhon, Saint-Simon, Fourier) e na Inglaterra (Owen) e a economia política clássica (Adam Smith e David Ricardo) e vulgar (John Stuart Mill, Benthan, Sismon).
A obra escrita em conjunto por Marx e Engels e intitulada “A Ideologia Alemã” foi um marco no pensamento marxista. Nela são definidas os princípios básicos da dialética materialista e é feita uma crítica a Feuerback, que limitou sua crítica a Hegel (“dialética idealista”) ao aspecto religioso, não a estendendo à economia, política e sociedade, como a concepção inicial desse autor (baseado na concepção do Estado). Dos socialistas utópicos, os marxistas extraem o conceito de luta de classes (“motor” da transformação). Neste livro são elaborados dois outros conceitos-chave na obra marxista. O conceito de trabalho, pensado em termos da economia política, e o conceito de alienação, inspirado em Hegel e Feuerback.
O ponto de partida da análise de classes no marxismo foi a famosa passagem do “Manifesto Comunista” na qual Marx e Engels declaram que “a história de toda a sociedade que existiu até agora é a história da luta de classes”, mais a obra central de Marx é o livro “O Capital”, um tratado acerca da dominação sob o modo de produção capitalista e vários conceitos importantes surgem na sua leitura.
Pensando em termos dos conflitos vê-se que nessa concepção a análise de classes é uma análise da luta de classes, ou seja, é um modo de análise que procede da crença segundo a qual a luta de classes constitui o fato crucial da vida social desde o passado remoto até o presente.
Nessa visão os protagonistas da luta de classes são, de um lado, os proprietários dos meios de produção e, de outro, os produtores e esses contrários estão engalfinhados num conflito que é eminente, “estruturalmente” determinado e implícito em sua respectiva localização no processo de produção. Os proprietários (burgueses) são inelutavelmente levados a tentar extrair a quantidade máxima de mais-valia que é possível extrair dos produtores (proletariado) nas condições históricas dadas, enquanto os produtores são similarmente levados a tentar minimizar essa quantidade e a produzir sob as condições menos onerosas possíveis.
A relação entre proprietários e produtores é uma relação de exploração que num sentido técnico denota a apropriação da mais-valia e a alocação do produto excedente por pessoas sobre as quais os produtores têm pouco ou nenhum controle. A exploração não é um desenvolvimento peculiar do capitalismo e a questão da apropriação e da alocação da mais-valia é muito mais complicado do que essa formulação sugere.
A análise de classes está preocupada basicamente com um processo de dominação e de subordinação de classes, o que constitui uma condição essencial do processo de exploração e sempre foi o principal objetivo da dominação. Para Marx, a exploração é de crucial importância, mas é a dominação que a torna possível. Marx visava criar uma “sociedade verdadeiramente humana”, onde seriam abolidas as relações de dominação e coerção.
Uma classe dominante em qualquer sociedade de classes é constituída em virtude de seu controle efetivo sobre três fontes principais de dominação: os meios de produção, onde o controle pode envolver a propriedade desses meios; os meios de administração e coerção do Estado; e os principais meios para estabelecer a comunicação e o consenso. (estrutura de dominação).
Nessa análise a importância da propriedade é fundamental na vida da sociedade capitalista. Ela é a principal fonte de poder administrativo nas empresas capitalistas de médio e pequeno porte, mas ela não é pré-requisito essencial para o controle das principais fontes de poder na sociedade capitalista, ou seja, o poder corporativo e o poder do Estado.
O próprio Estado é um extrator maior da mais-valia, tanto como empregador quanto como coletor de impostos. Ele é capaz de envolver-se no processo de extração em virtude de seu controle do poder estatal, sem ter nada a ver com a propriedade pessoal que intervém nesse processo.
Os elementos comerciais e profissionais da classe dominante compõem a burguesia das sociedades capitalistas avançadas da atualidade. Essa burguesia se distingue da elite do poder em virtude de não ter nada que possa ser chamado de seu poder. No entanto, ela faz parte da classe dominante porque seus membros exercem um grande poder em termos econômicos, sociais, políticos e culturais, não apenas na sociedade em geral, mas também em várias partes do Estado.
A classe dominante, como todas as outras, está longe de ser homogênea e divergências e choques muito pronunciados ocorrem constantemente entre diferentes segmentos dessa elite. Ela permanece suficientemente coesa para assegurar que seus objetivos comuns sejam eficazmente defendidos.
A outra seria a classe subordinada da sociedade capitalista e que compreende uma vasta maioria de sua população e cuja maior parte se compõe dos trabalhadores e seus dependentes. Ela é uma classe extremamente variada, diversa, dividida com base na ocupação, habilidade, gênero, raça, etnicidade, religião, ideologia, entre outras.
Essas divisões são de grande importância política e têm um peso muito grande na história das sociedades capitalistas, sem falar nos movimentos trabalhistas. A classe operária como um todo tem aumentado com o passar dos anos.
A classe trabalhadora compõe-se atualmente de operários e de funcionários de escritório e seus dependentes e de uma variedade de homens e mulheres dedicadas a ocupações voltadas para os serviços e distribuição.
Entre os conflitos temos as lutas que assumem uma multiplicidade de formas e expressões, mas pode-se situá-los em duas categorias gerais. De um lado, a classe dominante (classe conservadora) que procura defender, manter e fortalecer a ordem social, e o faz em nome do interesse nacional, da liberdade, da democracia ou de que quer que seja. Do outro lado, a classe subordinada, ou pelo menos a minoria ativista dentro dela, que está envolvida num processo permanente de pressão de baixo para cima. Pode ser exercida ou para modificar ou melhorar as condições nas quais a subordinação é vivenciada ou para erradicar por completo a subordinação. A primeira preocupa-se, sobretudo com as melhorias e reformas dentro da estrutura do capitalismo, e não procura ir além dessa estrutura. Já a segunda procura ultrapassar essa mesma estrutura, sendo portando revolucionária.
É a oposição e as lutas geradas por esses objetivos contraditórios descritos acima que constituem o fato crucial da vida social.
É importante destacar as maneira pelas quais as classes dominantes procuram usar o sistema político para seus próprios fins. A mais importante dessas instituições é o Estado, visto que ele desempenha um papel único e indispensável na defesa e no fortalecimento da ordem social e nenhuma outra instituição é capaz de intervir com a mesma eficácia na vida social. Isso ocorre por mais “não-intervencionista” que ele possa querer ser na vida econômica. Mesmo assim ele desempenha um papel crucial no âmbito dos conflitos e poderes na experiência social, nem que seja para atenuar os custos sociais da empresa capitalista.
O Estado é importante também porque ele é responsável pela previdência social e pelos serviços coletivos que servem também para assegurar a manutenção e a reprodução de uma força de trabalho eficiente e atenuam as queixas das pressões vindas de cima. Ele está profundamente envolvido na decisiva propaganda e na doutrinação e está encarregado do imenso aparato de coerção e repressão que está sendo operado na sociedade de classes. O Estado procura desempenhar um papel importante na manutenção da ordem social baseada na dominação e na exploração de classe.
A análise de classes está também preocupada com a crucial e incessante luta empreendida de cima para baixo com o objetivo de impor aos produtores as disciplinas que tornam possível a extração da mais-valia, processo que ocorre no ponto de produção e no local de trabalho, mas que depende também de toda uma série de condições sociais e políticas.
Quanto à pressão de baixo para cima, Marx acreditava que a classe trabalhadora deve inevitavelmente adotar as lutas pela modificação e melhoria das condições em que a subordinação e a exploração são vivenciadas e a luta pela abolição total da subordinação, onde Marx destaca a última.
Nessas lutas tem-se que destacar a influência da democracia capitalista sobre os movimentos trabalhistas. A democracia capitalista revelou-se um sistema extraordinariamente flexível, resistente e com poder de absorção, e desempenhou um papel fundamental na contenção e neutralização da pressão de baixo para cima.
Pensando em termos das linhas constitutivas de uma “teoria sociológica” marxista, temos outro marco: a situação da classe trabalhadora da Inglaterra, escrita por Engels. Este é um livro clássico pela abrangência com que a pesquisa empírica se articula com a matriz teórica; onde o enquadramento teórico orienta a seleção e análise factual e como esta, dialeticamente tratada, incide na correção daquele (enquadramento teórico). Ele descreve com detalhes toda a exploração da mão-de-obra inglesa, inclusive a de crianças, e as péssimas condições de trabalho e as longas jornadas de trabalho.
Resgato hoje esse tema com o intuito de mostrar como esse pensamento ainda é atual, pois analisa o capitalismo em sua essência, e de como ele é interessante para se estudar e para se aprofundar.
Artigo publicado originalmente no site “Vivendocidade”, de Carlos Correa Filho (07/12/2011)